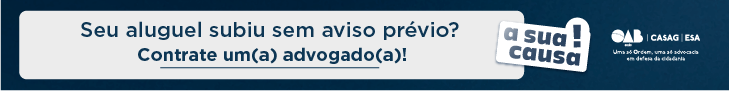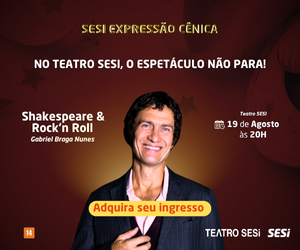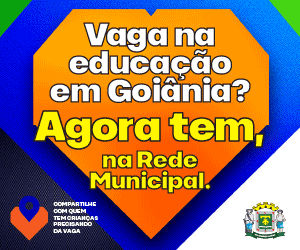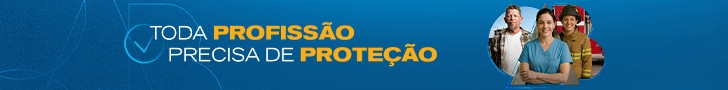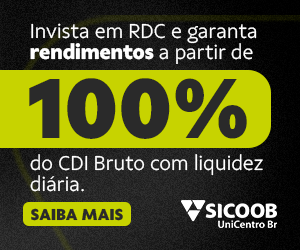Aldeia Tuatuari, Parque Índigena do Xingu - “Nadinha, tive um sonho muito louco ontem. Que eu, você, Dani e Emília estávamos indo para o Xingu”, deu uma risada do outro lado da linha meu amigo Rafael. Ele já estava se encaminhando de Florianópolis para Goiânia, de onde sairíamos com destino ao Xingu. A sensação era essa: de sonho, com quê de aventura e muito de surpresa. Sem pouco ou nada saber do que nos esperava, nos encaminhamos para Canarana. Fora Dani, amiga que nos fez o convite. Trabalha em loja de artigos indígenas em Paraty e sabia um pouco mais desse universo. Mas, como todos nós, não tinha ideia do que nos esperava.
A troca de e-mails que precedeu a viagem foi cômica. Vamos dormir em rede? Levamos saco de dormir? A gente precisa levar comida? A gente pode comer a comida deles todo dia? Teremos peixe e biju? Que roupa levar? Frio de noite? Melhor não levar passatempo para as crianças não terem dor de barriga, outra sugeriu! Tudo isso indicava um simples sintoma que, depois de cinco dias, foi absolutamente transformado: o desconhecimento da realidade de uma aldeia no Xingu.
Não saber de nada, ao fim das contas, foi um grande presente. 24 horas antes de viajarmos, Dani conseguiu se informar, com alguém da aldeia, do que precisaríamos levar. E foi tudo que soubemos, o resto, apenas surpresas. A imagem do dia em que chegamos talvez nunca saia de minha cabeça. Deixando o barco, às margens do Tuatuari, caminhamos poucos metros e a imagem que vi saiu direto dos museus, das fotos, para meus olhos. As 15 ocas de palha, o extenso terreno capinado até chegar a areia. Aquilo, por si, me engasgou.
Cacique Aritana, nu, todo pintado de urucum, estava sentado na oca do meio da praça junto a outros homens mais velhos assistindo ao futebol ao lado (todos com chuteira). O contraste, por si, deu um nó em minha cabeça. Era apenas o primeiro. Aritana se levantou, perguntou a convite de quem estávamos na aldeia e nos recebeu com enorme respeito. Esse respeito se transformou em carinho com que se despediu da gente depois de cinco dias. “Ah! Já vão? A gente se acostuma com vocês aqui, agora ficaremos com saudades”, disse Aritana já fazendo convite para o retorno.
O mesmo respeito e receptividade teve a família de Ana, ao nos receber. Seu filho, junto a outro rapaz, nos buscou de barco no Porto Kuikuro. Estava na porta da sua casa nos esperando e, somente poucas horas antes, soube que chegaríamos. Seu pai, Pirakumã, quem fez o convite à Dani (que, por sua vez, nos convidou), estava para cidade. As relações e as amizades, talvez, sejam os maiores presentes que carregamos do Xingu.
Logo no segundo dia, já éramos convidados para o almoço com eles: comer o biju, produzido por Ana, e os peixes, pescados por seu marido Jair. Depois do almoço, estávamos descansando em suas redes, quando Jair entregou presentes para cada um de nós. Em seguida Thai e Tina (filhos de Ana), repetiram o gesto. De repente, estávamos cheios de colares e pulseiras Yawalapitis. Olhamos um para cara do outro encabulados com o gesto da família. Éramos meros desconhecidos, hospedados gentilmente em sua casa, afinal.
Tina, de nove anos, foi a nossa grande guia nesses dias. Tímida, no primeiro dia, só nos observava. No segundo, quando olhamos para trás, ela vinha nos acompanhando para tomar banho de rio. Desde então, não deixou de nos acompanhar. Explicava tudo que perguntávamos, nos ensinava a cantar suas músicas, subia nos pés de árvores para catar frutas para gente, nos ensinava a acender fogueira, fazia suas refeições conosco se divertia com a gente no rio.
Thai, seu irmão de 13 anos, guardava uma timidez profunda, cultivada pelos Yawalapitis. Mas, de repente, estava na beira da fogueira com a gente contando piadas de índios ou nos assustando com as histórias dos feiticeiros. Foi o grande companheiro de Rafael, como Tina foi nossa (das meninas).
Emily foi a mascote do grupo, que ganhou o coração de todos nós. É uma linda criancinha de quatro anos que não sabia falar nada de Português. Ressabiada, não aceitou nosso convite para tomar banho de rio no primeiro dia. No segundo, com insistência, topou. Daí em diante, era só dizer “Emily, yaha üp (vamos para o rio)” e ela vinha atrás. Por fim, chegava cedo com sua toalhinha na casa onde estávamos, segurando um pirulito ou comendo uma frutinha. Se estávamos descascando mandioca, ela nos ajudava para terminarmos logo e ir para o rio. No último dia já falava as palavras sabonete, peixinho, chinelinha, chiclete e por aí vai.
Tina, Emily e Thai nos deram a total noção da forma saudável como as crianças são criadas no Xingu. Desde cedo ajudam nas tarefas da casa e depois vão para onde querem, livres dentro da aldeia. Medo parece não fazer parte do vocabulário. Sobem árvores altas, nadam em profundidades proibidas para crianças na cidade e querem se aproximar dos animais o máximo que puderem, seja cobra ou onça.
Observando Emily (que provavelmente nunca foi a uma cidade), livre e destemida dentro da aldeia, brincando com periquitos, chupando frutinhas, nadando no rio, inevitável questionar a sociedade que criamos. Com crianças presas em apartamentos, taxadas de hiperativas (por não gastarem a energia, é claro), envolvidas com vídeo-games e computadores para evitarem que saiam de casa (ou a destruam) e que têm medo de tudo. De rua, de árvore, de água, de gente.
A simplicidade com que os Yawalapitis levam a vida, a vida em comunidade, o respeito à natureza e a valorização das tradições e da história fazem dessa aldeia uma grande lição para a vida que se leva nos centros urbanos. A impressão que tivemos é que estamos correndo para, um dia, chegarmos a um modelo de sociedade parecido com o que já temos, ali no coração do Xingu. Onde a modernidade convive com a tradição. Onde ninguém vive com nada além do necessário; nem aquém. Onde o homem se vê como parte da natureza e, por isso, a respeita.
No dia 18 de abril saí chorando do cinema e no outro dia registrei
aqui. Fiquei emocionada em saber da feliz e linda história da criação do Parque Indígena do Xingu, dos admiráveis Villas Boas e saber que foi possível preservar uma das maiores riquezas do Brasil: os índios. Jamais imaginaria que quatro meses depois eu estaria diante da criança que conviveu com os Villas Bôas durante a criação do parque. Um dos 13 Yawalapitis reunidos na década de 1960, prestes a desaparecerem. Aquele que Orlando levou para cima e para baixo, pegou nos ombros e disse: são vocês que vão cuidar disso daqui por diante.
Pirakumã é essa pessoa. Desde então, trabalha na luta pelos direitos indígenas. Trabalha na Funai e responde pelo parque nas instâncias políticas, nos ministérios, nas lutas contra Belo Monte, nas Rio+20 da vida. Fui presenteada em ser hospedada em sua casa. E, mais, em ouvir suas histórias, suas dificuldades, seus temores, seus desejos.
A cada conversa, tínhamos a noção de que a luta pelo Parque continua. Ainda mais pelos índios fora desses limites em condições de vida mais precárias e difíceis, nos centros urbanos ou cercados por latifundiários. Entendia cada vez mais a necessidade dos índios ocuparem os espaços políticos, as universidades e de se apoderarem das tecnologias para garantirem a preservação de suas vidas e cultura. Sentíamos, cada vez mais, que problema de índio, é problema nosso. Pela nossa história, pela nossa cultura ou, simplesmente, por humanidade. Pela Tina, Thai, Nuala, Emily, Ana, Jair, Pirakumã e Yamoni.
Por isso agradeço, aqui nessa coluna, a Pirakumã e a toda sua família por terem proporcionado a experiência de conhecer o Brasil. De ver de perto a vida que se leva, hoje, numa aldeia no Xingu. Por tirarem da minha cabeça a ideia ingênua do que são os índios e a vida numa aldeia. Agradeço as relações e as amizades que carrego e o exemplo que nos dão de vida em comunidade. E, por fim, por despertarem em mim a noção de que a luta dos índios é minha também.