Jales Naves
Especial para o A Redação
Goiânia - Como definir os traços que distinguem o povo luso-brasileiro? Ao abrilhantar a sexta-feira cultural do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás – sempre com tema estimulante, que desperta interesse e debate criativo –, o professor doutor Wilson Alves de Paiva, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Goiás, falou sobre “O caráter inusitado da brasilidade”. Para ele, a cultura luso-brasileira é marcada pela coexistência dialética entre perda e esperança, melancolia e redenção, tradição e flexibilidade, tudo isso possibilitado pela mestiçagem étnica e cultural de forma inusitada. “Tudo se constituiu de modo inusitado e é caráter inusitado que se constituiu como nosso estatuto ontológico”, afirmou.
Ele elaborou uma Teoria da Ramalhagem para melhor explicar essa barafunda e seu caráter inusitado, tendo como inspiração João Ramalho. “Sua origem é incerta – como são nossas próprias origens”, disse. “O sujeito aqui apareceu, passou a viver entre os Tupiniquim e teve sorte, pois casou-se com Bartira, filha do cacique Tibiriçá e se deu bem. Logo descobriu a política do cunhadismo e se casou com várias outras indígenas para acumular um exército de cunhados a seu favor. Em pouco tempo se constituiu como uma liderança entre os índios, que facilitou o comércio entre as tribos e os portugueses. Inclusive, quando precisaram de ajuda para defender a cidade de São Paulo contra os invasores franceses, foram buscar nele o apoio de seu exército. Por tudo isso, pode-se dizer que Ramalho foi o verdadeiro ‘fundador do Brasil’”.
Saudade
“Por que este tema?”, indagou, ao começar a sua exposição. A curiosidade sobre a caráter da brasilidade e sobre os traços que distinguem o povo luso-brasileiro – como explicou – teve início em dois momentos no Canadá. O primeiro foi ao desenvolver a pesquisa do pós-doutorado, em 2014, quando estudou numa escola mantida pela comunidade luso-brasileira e teve a oportunidade de conviver tanto com portugueses como com brasileiros vivendo naquela cidade. Com os professores, com um padre que tanto lhe ajudou, e com outros, teve um debate sobre os elementos étnico-culturais que constituíam “e nos diferenciavam dos canadenses”.
A outra ocasião foi em 2017 quando participou de um encontro sobre a lusofonia, na Universidade de York, ao apresentar um texto sobre a saudade como a quintessência da alma lusitana. Durante o evento houve um debate e uma professora portuguesa procurou rebater a ideia da intraduzibilidade desse termo, dizendo que isso era uma bobagem. “É claro que argumentei de volta e tive a sorte de receber o apoio de uma professora norte-americana que pediu para entrar na conversa e me defendeu, dizendo que até os escritores anglo-saxônicos não traduziam a palavra, mas usavam “saudade” em seus textos”.
Salvador da pátria
A partir daí Wilson começou a pensar sobre os traços “que nos definem, sobre aquilo que mais nos caracteriza, qual seria o elemento mais significativo ou mais distintivo de nossa cultura e de nosso povo”. Passou a meditar e a refletir sobre isso e chegou à conclusão que se trata de uma pergunta muito difícil e complexa. Para respondê-la, diversos esforços já foram empreendidos, desde longa data, como a escrita de Fernão Lopes, intitulada de “Crónica de Portugal”, editada em 1419, na qual o autor fala que “o que nos caracteriza é o amor à liberdade e a coragem guerreira”. Depois dele, séculos depois, veio Teixeira de Pascoaes (1877-1952), que foi o primeiro a apontar que “somos o único povo que possui uma alma saudosa; portanto é a saudade que nos identifica e nos define”.
Nesse ínterim outros tantos se lançaram a essa tarefa, como o próprio Camões, em “Os Lusíadas”, onde fala do sentimento melancólico do povo, “um sentimento coletivo de perda que bem caracteriza o lusitano”. Além disso, segundo Camões, o português é cheio de esperança, mas na perspectiva messiânica. Todos sabem de onde vem isso: da ideia de que o virtuoso rei Dom Sebastião, que perdeu a batalha em Alcácer-Quibir, em 1578, e sumiu sem deixar rastro, um dia vai voltar triunfante e restaurar a glória de Portugal. O sentimento de perda é acompanhado da esperança em um “salvador” mítico. “Herdamos isso. Estamos sempre esperando que um “salvador” nos resgate, um “unicórnio”, que trabalhe na política por nós, esquecendo que somos nós que devemos agir politicamente, tal como os gregos defenderam, agindo de modo virtuoso na pólis”.
Tragédia
Wilson destaca que Eça de Queirós, em seu fabuloso “Os Maias”, “impinge a ideia de tragédia”. O estofo do livro, quem leu sabe do que está falando, é trágico e fatalista. E essa perspectiva é copiada no Brasil por Euclides da Cunha, por influência também de Comte e de Gobineau. Em “Os Sertões”, logo no início, ele descreve a miscigenação por um ponto de vista depreciativo, pessimista, dizendo que ela degenera o tipo humano, gerando um povo fraco. “Felizmente na terceira parte da obra ele vem dizer que o sertanejo não, o sertanejo é um forte. Mas o comentário negativo já tinha sido feito e apresentado uma visão que era comum em sua época e compartilhada por muitos”.
Por isso – afirmou – “que gosto dos culturalistas. As obras de grandes intelectuais, como Gilberto Freyre, Arthur Ramos, Edison Carneiro e Thales de Azevedo, na perspectiva da antropologia; e de Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira, na educação, são exemplos de uma mirada mais otimista. Aliás, abro um parêntese para dizer que Anísio Teixeira é quem deveria ser o patrono da educação brasileira, por tudo que fez pela educação deste país”. “Bem, por que eles? É porque há neles uma certa reversão do trágico e do fraco, para o lado bom e forte na análise de nosso povo e de nossa cultura. Em Freyre isso é marcante e é na ideia de “força” que ele desenvolve seu lusotropicalismo, defendendo que nossa maior força está no caráter sincrético, conciliador e adaptável que temos”.
Jeitinho brasileiro
Essa visão – de acordo com Wilson Paiva – não é puramente romântica e acrítica. Outros nomes desse movimento apresentaram algumas análises críticas, como Sérgio Buarque de Holanda, que caracteriza o povo luso-brasileiro como “cordial”. “Isso nada tem a ver com a cordialidade no sentido de bondade, fineza etc., mas de sua etimologia: cordialis, cordis, ou seja, do coração. Agimos pelo coração e não pela razão, agimos pelas paixões que nos guiam: a amor extremo, o ódio etc. Além disso, agimos também de forma bipolar, ou seja, sempre apegados a dois polos: por um lado o burocratismo e por outro a informalidade e não é razão que define esse transitar, mas sim a paixão”.
Nessa mesma linha está Roberto DaMatta, grande antropólogo que foi professor nos Estados Unidos, que ressalta “nossa cultura como ritualística e ambivalente. E a saída é o jeitinho brasileiro. Nesse trânsito entre uma coisa ou outro, sempre damos um jeitinho, fazemos uma gambiarra, sem precisar do manual (razão). Por isso e por vários outros fatores é que Darcy Ribeiro vai completar a ideia de que no fundo o que nos caracteriza é a “ninguendade”. Para ele, a ninguendade é a condição histórica e cultural na qual um povo ou grupo social não se reconhece como pertencente a uma tradição própria, nem plenamente identificado com outra, vivendo assim uma espécie de vazio de identidade: somos o Zé Ninguém da história”.
“Minha leitura é mais mediana (algo que aprendi com a mediania aristotélica): não creio que sejamos de fato uns Zé Ninguém, mergulhados na ninguendade; não creio também que sejamos um povo híbrido social ainda sem consciência histórica e cultural de si, embora reconheça que estamos mesmo navegando entre dois polos, em busca de se consolidar um traço mais significativo”, explicou.
Inusitanidade
A cultura luso-brasileira – afirmou – é marcada pela coexistência dialética entre perda e esperança; melancolia e redenção; tradição e flexibilidade; e tudo isso possibilitado pela mestiçagem étnica e cultural de forma inusitada. “Tudo se constituiu de modo inusitado e é esse caráter inusitado que se constituiu como nosso estatuto ontológico. Então, em vez de ninguendade, estamos mergulhados na inusitanidade. Assim é minha tese: o fundamento ontológico de nossa cultura é o caráter inusitado pela qual se formou, se desenvolveu e se constituiu enquanto elemento identitário do povo, da nação, dos costumes e, em uma palavra, da cultura”.
“Em minhas elucubrações fui mais além. Elaborei uma “Teoria da Ramalhagem” para melhor explicar essa barafunda e seu caráter inusitado. A teoria tem como inspiração o degredado João Ramalho, que por aqui foi deixado, ou naufragado, não se sabe ao certo, por volta de 1515. Sua origem é incerta – como são
nossas próprias origens. Mas vamos lá: o sujeito aqui apareceu, passou a viver entre os Tupiniquim e teve sorte, pois casou-se com Bartira, filha do cacique Tibiriçá e se deu bem. Logo descobriu a política do cunhadismo e se casou com várias outras indígenas para acumular um exército de cunhados a seu favor. Em pouco tempo se constituiu como uma liderança entre os índios (hoje usamos indígenas, mas mantenho em alguns lugares este termo porque é o termo usado pelos autores), que facilitou o comércio entre as tribos e os portugueses. Inclusive, quando precisaram de ajuda para defender a cidade de São Paulo contra os invasores franceses, foram buscar nele o apoio de seu exército. Por tudo isso, pode-se dizer que Ramalho foi o verdadeiro “fundador do Brasil”. Não é curioso? Um verdadeiro Zé Ninguém, que nada tinha de nobreza, desprezado pela corte, amalgamado com os “selvagens”, virou herói. O verdadeiro Macunaíma, concebido por Mário de Andrade, não é? O herói sem nenhum caráter, mas foi quem segurou a barra e quem inspirou minha teoria.
Houve outras figuras históricas importantes, como Diogo Álvares Correia (Caramuru) que talvez tenha chegado antes de Ramalho, casou-se com Paraguaçu, filha de outro cacique e também conquistou espaço. Outro é o alemão Hans Staden “e por aí vai. Mas escolhi o Ramalho como fonte de minha teoria, por isso a “Teoria da Ramalhagem”, para defender a ideia de que somos um povo ramalhado. Temos traços dos portugueses e somos iguais a eles. Todas as vezes que viajo a Portugal, fico a observar o comportamento deles: somos iguaizinhos. Alguém pode dizer que os portugueses são estúpidos. Ora, quem diz isso é porque não viajou ao interior do Mato Grosso, da Paraíba ou do Rio Grande do Sul. Viajem para lá e vão encontrar a mesma “estupidez” (no sentido de sincero, direto e ríspido)”.
“Outros povos são diferentes!”, esclareceu. Recentemente leu a Trilogia, de Jon Fosse, o norueguês que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2023, observando a descrição dos personagens e percebeu que são muito diferentes. “Não sei explicar exatamente essa diferença – isso daria outra palestra e outro livro”, completou.
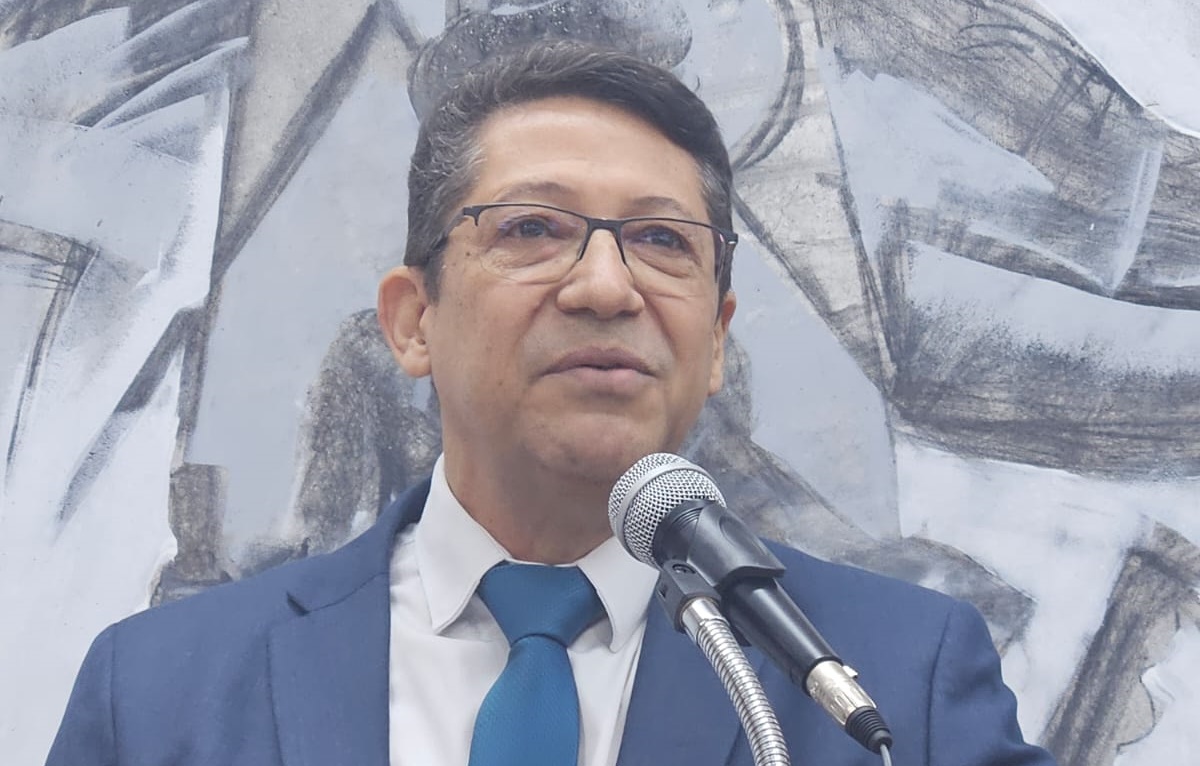 Professor Wilson Paiva (Foto de Nelson Santos, do IHGG)
Professor Wilson Paiva (Foto de Nelson Santos, do IHGG)