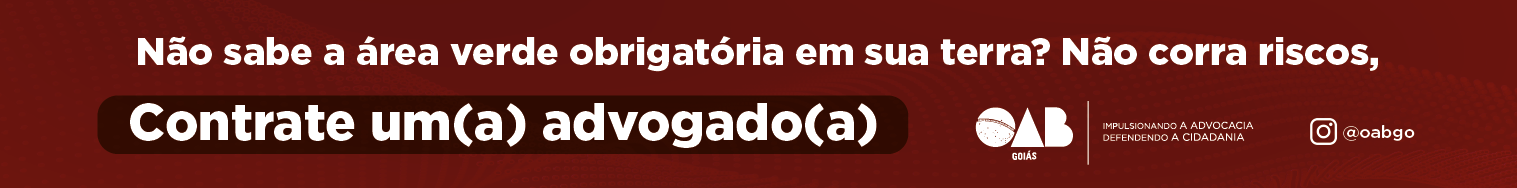Goiânia - Dizem que nossas memórias são inventadas. Pois então, em uma das recordações mais antigas e brumosas que inventei, eu estava ali no alto de meus três ou quatro ou cinco anos na fazenda Taperão, onde passei grande parte da infância ou ao menos das férias da infância. Digo do alto porque ao recordar a gente se vê de fora, feito filme, ainda que as imagens sejam distorcidas pela névoa do sentimento, e também porque fui daquelas crianças graúdas, que tomaram fermento na mamadeira de leite de vaca girolanda, comeram broto de bambu e cresceram mais ligeiro que abobrinha. Graúda, mas ainda assim pirralha e das mais choraminguentas.
Nessa recordação, eu era a menina macuquenta que vivia rolando no chão poeirento com o cachorro Muquim – sim, muquim, de muque, muquinho, esses nomes curiosos com que o povo da roça desnomeia os vira-latas que aparecem perambulando pelas fazendas e que os donos acolhem até que a morte (por mordida de cobra ou atropelamento, quando vagueiam pelas estradas salivando por namoradas), os colha. Cachorro de roça dificilmente morre de velhice. Sua vida é uma aventura entre carniças indigestas e bichos, peçonhentos ou não. Cansada de juntar macuco e bicho de pé, eu de vez em quando inventava de sair correndo, para testar literalmente o sebo untado nas canelas e levantar poeira do chão com maior perfeição. Menino também aprecia apostar carreira consigo mesmo.
Minha mãe e irmã, entediadas com os desacontecimentos da roça, resolviam de vez em quando se divertir comigo e com o cachorro, ou melhor, às minhas expensas ou às custas de minhas calcinhas. Explico: sem nada pra fazer senão espantar mosquito, estumavam o cachorro atrás de mim: pega! pega! pega! Eu corria até a porteira que havia bem diante da área de serviço da casa – o pulguento atrás. A distância devia ser curta, uns poucos metros, mas no terror de ser mordida pelo melhor amigo, o coração quase cuspido pela boca, eu corria o mais que podia, entre deus-me-acudas, subindo na porteira para que não me alcançasse.
Muquim, porém, dava um salto e mordia as rendas de minha calcinha bunda rica. Esse modelo , para quem ignora o fabuloso mundo das calcinhas e suas tendências, era daqueles carregados de rendinhas nos traseiros, moda lá pelos idos da década de 70. O cachorro ficava ali engarranchado; eu aos prantos e catarros, irmã e mãe às gargalhadas. O cão rosnava. Eu choramingava, mas não arredava. Nenhum dos dois largava o osso. A fera não desgrudava das rendas e eu, das tábuas da porteira. Devia durar uns poucos segundos aquele embate, mas as recordações transforam segundos em eternidades de tortura. Não recordo qual de nós pedia trégua primeiro, mas suspeito de que era ele, pois teima e medo sempre foram minhas maiores qualidades.
Certamente, elas confirmarão que estou inventando, que não fizeram comigo dessas crueldades, mas se tem coisa que adulto aprecia fazer com crianças desde que a humanidade é bicho-homem, é troçar delas, beliscá-las nas partes mais fofas do corpo, tomar-lhes os brinquedos, obrigá-las a dançar diante dos parentes, repetir suas gafes e palavras erradamente pronunciadas, tudo o que lhes puder provocar vermelhidão nas bochechas e catarrências. Hoje chamam isso de bullying, mas naquela época não se usavam sofisticados anglicismos. Mãe e irmã, que não leram a Educação Sentimental de Rousseau, mas que eram versadas na Educação pela Chinelada, Vara de Marmelo e Currião, buliam carinhosamente comigo me chamando de égua velha, porque estava parada e de repente caía; de pá mecânica, porque nunca fui muito jeitosa para segurar os talheres. Segundo tal pedagogia, também corrente na época, menino se educava ralhando e dando sova. Quando agia direito, nada de adular. O único cumprimento a que tinha direito era: não fez mais do que a obrigação.
Se a pedagogia do ralho e do vergão saiu de moda, a troça de modo algum. E não é só adulto que apreciar caçoar de menino. Entre a própria meninada, a prática é corriqueira. Na escola, também recebi apelidinhos carinhosos dos colegas: Quatrozói, quando comecei a usar óculos; Sardalina (nome de creme bastante anunciado nos anos 80) por causa das sardas do rosto. E assim fui muito bullyinizada pela vida agora. Quem, afinal, não foi? Essas recordações, inventadas ou não, hoje não me fazem corar, ainda que eu não esteja certa se já não me levaram, doidivanas, ao divã. De todo modo, divirto-me com elas. A infância inventada sempre será bom tema para os escrevedores. As presas afiadas do cachorro não me deixaram cicatrizes, tampouco as rudes expressões de amor materno e fraternal. Como dizia minha boa mãe (e mãe boa era mãe madrasta), é bom ficar com o couro grosso, acostumar-se a não se melindrar ao tomar desfeita. Porém, sei que para muitos o bullying não é assunto lá muito bem resolvido ou terapeutizado.
Conheço uma mulher que até mudou de nome e – atenção! – não sou eu, muito embora... Chamava-se Francisca, como a avó paterna, considerado feio na época, nome de velha. A meninada do grupo escolar ria dela e a chamava de Chica, Chiquinha, Chiquitita, “
Chiquita bacana lá da Martinica/ se veste com uma casca de banana nanica”. Pobre da Chiquita. Sua sorte era pior que a minha, pois não usava vestido, nem usava calção, e inverno pra ela era pleno verão. Embora Chiquita, existencialista, só fizesse o que lhe mandava o coração, a vergonha venceu. Os meninos não queriam namorá-la por causa de seu nome ridículo. Ela pediu misericórdia ao juiz, que a atendeu na mudança. Chama-se hoje Soraya. Ironicamente, Francisca é agora nome elegante, bonito, da moda, como Maria, João e Joaquim.
Coisa boa é o troco que o tempo dá aos caçoadores mais cruéis. Os óculos substituí por lentes de contato. As sardas quase sumiram com a idade e cremes abrasivos. E eu bem que gostaria de ver se por acaso Jeguinho, o menino mau que me azucrinava, por acaso cresceu. Não fui em eu que lhe arranjei a alcunha, mas, afinal, eu precisava pelo menos me defender.
Outras vezes, os apelidos empregados pelos caçoadores parecem pregar peças ou estar de acordo com os caprichos do destino. Ágda foi atormentada a infância e adolescência inteiras pelo irmão Ricardo, que – sabe-se lá por qual misterioso motivo – só a chamava de Ágda Pedreira. Repetia sem parar, fazendo-a chorar de raiva. A ironia foi que, aos 25 anos, casou-se com um tal Renato Pedreira, incorporando alegremente seu sobrenome.
Destino humano mesmo é ridicularizar o outro, algo que está na moda como nunca. Uma palavra qualquer que se diz, uma imagem infeliz, e lá vamos parar nas redes sociais, trollados, transformados em memes, milhares de vezes curtidos e compartilhados em nossa vergonha. Como bem disse Luís Fernando Veríssimo, “o homem é o único animal que ri dos outros”, embora não tenha sempre o mesmo bom humor para rir de si mesmo. Consideremo-nos, pois felizes, se a trollagem se restringir aos nossos lares, onde as pequenas implicâncias são o melhor lazer, onde a intimidade parece pressupor a liberdade irrestrita e vigiada de dizer tudo o que vem à boca: apelidos, palpites, conselhos, comentários invasivos e desnecessários, legítimas manifestações do afeto familiar.
Julguemo-nos seres de sorte se somos vítimas apenas do bullying amoroso, deliciosamente praticado entre os casais, por meio de apelidinhos ternos, mas carregados de críticas e ressentimentos. “Como vai meu preguicinha hoje?”. Alguns casais, que Stendhal chama, em seu livro Do Amor, de praticantes do amor rixento, empenham-se na arte da implicância e do escárnio 24 horas e não perdem a chance de, quando entre amigos e familiares, travar a sua guerra miúda, lavando a roupa íntima em público, com o sabão do bom humor. Muitos desses casais jamais se separam, alimentados pelo próprio amor ao ódio. Porém, de vez em quando, os pequenos embates se acirram e o bicho pega, e é bom não estar por perto para assistir. Alguém irá correr até a porteira mais próxima.